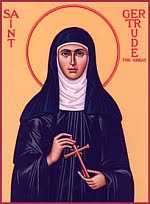“(Tavastehus, 1865 - Järvenpäa, 1957) Compositor finlandês, iniciador da escola moderna de composição musical de seu país. Órfão de pai desde os três anos de idade, pertencia a uma família de ascendência sueca, pelo que em seu lar se falava neste idioma. Mais tarde aprendeu finlandês na escola e se interessou mais profundamente por diversos aspectos da cultura de seu país, que até 1917 pertencia à Rússia.
Adquiriu suas primeiras noções de piano por meio de sua tia Júlia, e mais tarde, em 1885, começou seus estudos de direito na Universidade de Helsinki, para abandoná-los um ano mais tarde e assim poder concentrar-se na música. Estudou composição com Wegelius e violino com Csillag na capital finesa até 1889. Wegelius descobriu rapidamente os grades dons musicais do jovem Sibelius, que por aqueles anos já havia composto obras entre as quais se encontram um Trio para piano em dó maior e uma Sonata para violino em fá maior. Durante sua época como estudante no Conservatório de Helsinki, Sibelius entrou em contato com algumas das pessoas que mais tarde influiriam tanto em sua vida como em sua obra: o pianista e compositor Ferruccio Busoni e o também compositor Armas Järnefelt, com cuja irmã se casaria Sibelius anos mais tarde.
Foi seu professor Wegelius quem o animou a pedir uma boisa de estudos para Berlim e, ao ser-lhe concedida esta, se transladou à cidade alemã em setembro de 1889. Ali estudou composição de forma privada com Albert Becker e, se bem não ficou muito contente com os ensinamentos que recebeu dele, desfrutou intensamente da vida cultural berlinense. No verão do ano seguinte voltou à Finlândia, onde escreveu seu Quarteto de cordas em si bemol menor. De novo obteve uma ajuda do governo de seu país para estudar no estrangeiro, e desta vez foi Viena a capital escolhida. Ali se formou com Robert Fuchs e com o húngaro Karl Goldmark, e foi na capital austríaca onde começou a centrar-se na escrita para orquestra graças à influência das obras de Bruckner e Wagner.
Seu primeiro projeto de ressonâncias nacionalistas foi Kullervo, uma composição de idéias melódicas finlandesas e de tom escuro e grave. A obra foi concebida em Viena e finalizada após regressar a seu país natal em 1891. Sua exitosa estréia se deu no ano seguinte em Helsinki. Nessa época Sibelius se uniu ao movimento carelianista, um grupo de artistas interessados em se aprofundar nas raízes da Finlândia por meio do estudo da epopéia nacional, o Kalevala. Em 1892 compôs outra obra de inspiração finesa: o poema sinfônico En saga. Nesse mesmo ano se casou com Aino Järnefelt e realizou uma viagem à região da Carélia, onde teve oportunidade de transcrever melodias populares do local. Na década dos anos noventa nasceram suas primeiras três filhas e em 1892, devido às necessidades econômicas de sua família, Sibelius começou a dar aulas de música no Instituto Musical de Helsinki. Afortunadamente, o governo de seu país concordou em conceder-lhe em 1897 uma pensão vitalícia de 3.000 marcos anuais que lhe proporcionou certa folga econômica, pelo menos durante os primeiros anos.
Após a estréia em 1898 da obra teatral Kung Kristian II de Adolf Paul, cuja música incidental compôs Sibelius, surgiram-lhe ofertas para publicar sua obra tanto em seu país como na Alemanha, onde firmou um contrato com a prestigiosa editora Breitkopf. Em julho de 1900 realizou uma exitosa turnê pela Europa (Escandinávia, Alemanha, Holanda e França) que lhe serviu para adquirir fama e prestígio nestes países.
Apesar dos sucessos musicais obtidos, Sibelius continuava bebendo até extremos preocupantes; sua esposa Aino decidiu adquirir uma casa de campo no bosque de Järvenpää e assim distanciar o compositor da vida urbana de Helsinki. Em setembro de 1904 se transladou junto com sua mulher e suas quatro filhas à nova vivenda, chamada Ainola, na qual residiu durante o resto de sua vida.
No ano seguinte conseguiu publicar sua obra na editora Schlesinger de Berlim, propriedade de Robert Lienau. Assinou com ele um contrato no qual se comprometia a entregar vários trabalhos por ano. O primeiro que veio à luz na editora foi Pélleas e Mélisande, uma partitura de música incidental. Também em 1905 se deu sua primeira viagem à Inglaterra, onde regeu várias de suas obras e adquiriu grande popularidade. Continuou compondo e em 1907 terminou sua Terceira sinfonia em dó maior, uma obra mais recatada que suas duas sinfonias anteriores. Nesse mesmo ano esteve em Helsinki com Gustav Mahler, e pôde conversar com ele sobre temas musicais.
Após o nascimento de suas duas últimas filhas, em 1908 e 1911 respectivamente, Sibelius afundou em uma crise pessoal e econômica na qual o álcool se tornou seu companheiro inseparável. Neste período se deu sua aproximação à música de câmara, que fica refletida em seu Quarteto em ré menor de 1909 e em obras vocais como as Oito canções op. 57 baseadas em textos do escritor sueco Ernst Josephson ou as Dez peças para piano op. 58.
Em 1909 e de novo em 1912 voltou à Inglaterra. Ali continuava sendo um compositor admirado, enquanto na Europa central começava a haver opiniões que o relegavam a um segundo plano, já que haviam surgido grandes figuras da música, como Claude Debussy ou Arnold Schoenberg, que apresentavam propostas estilísticas mais avançadas. Sua Quarta sinfonia foi um fracasso de público na Alemanha e na França, mas ele continuou explorando a linguagem composicional que vinha realizando até o momento, resistindo a adotar as tendências musicais do restante da Europa.
Em 1914 teve lugar um acontecimento importante para sua carreira musical: realizou uma viagem aos Estados Unidos da América convidado pelo também compositor Horatio Parker. Ali estreou seu poema sinfônico As Oceânidas, composto a pedido do Festival de Música de Norfolk, e recebeu um doutorado honorífico que lhe concedeu a prestigiosa Universidade de Yale.
Uma vez de volta à Finlândia acabou de escrever a Quinta sinfonia em mi bemol, que revisou meticulosamente até dá-la por terminada em 1919. Em 1921 rejeitou o posto de diretor da Eastman School of Music dos Estados Unidos que lhe foi oferecido e, lamentavelmente, continuou bebendo em excesso até o ponto de chegar a reger ébrio sua Sexta sinfonia em um concerto celebrado em Göteborg (Suécia) durante a primavera de 1923. No ano seguinte concluiu sua Sétima sinfonia, uma obra prima do gênero escrita em um só movimento; e em 1926, a pedido da Sociedade Filarmônica de Nova York, acabou o poema sinfônico Tapiola, baseado em um personagem mitológico finês chamado Tapio.
Após a citada obra, Sibelius afundou numa depressão que o impediu de compor grandes obras. Sua oitava sinfonia, na qual aparentemente trabalhava até 1933, nunca chegou a ver a luz. Em 20 de setembro de 1957 faleceu devido a uma hemorragia cerebral. O Museu Sibelius de Turku conserva diversos materiais sobre a vida e obra do compositor finlandês, assim como a biblioteca da Universidade de Helsinki, que guarda um grande número de manuscritos e esboços de suas obras.
Obras de Jean Sibelius
A obra de Sibelius bebe diretamente da grande epopéia literária de seu país, o Kalevala, cujos textos e motivos rítmicos lhe serviram como material para sua música. Sua obra destila amor pela natureza, é algo sombria e harmonicamente conservadora, embora empregue nela acordes convencionais com grande liberdade. Na década de 1890 compôs três poemas sinfônicos de matiz nacionalista: Finlândia, O cisne de Tuonela e En saga. Este último utiliza o tema principal de um octeto de cordas composto quando era estudante e gerou grande controvérsia após sua estréia em Berlim em 1902. Apesar da influência da música popular finesa na obra de Sibelius, não é fácil encontrar em suas composições melodias folclóricas reconhecíveis. A influência de compositores como o norueguês Edvard Grieg, o russo Borodin ou mesmo Tchaikovsky se escuta em suas primeiras partituras.
A partir de sua estada em Viena centrou seu interesse na música orquestral, campo no qual desenvolveu seu talento com maior facilidade. A primeira de suas sete sinfonias foi publicada em 1899 e a última em 1924. Desde a publicação de Tapiola no ano seguinte, o compositor finês não voltou a realizar uma obra de envergadura. Apesar disso, continuou sendo um compositor reconhecido em seu país. Sua Primeira sinfonia em mi menor (1899) mescla seu próprio estilo com certos matizes românticos procedentes de Tchaikovsky. A Segunda, composta em 1902 na tonalidade de ré maior, contém ressonâncias folclóricas especialmente na parte final, e nela aparecem já os motivos melódicos breves tão característicos do estilo de Sibelius.
Suas sinfonias terceira e quarta estão escritas em uma linguagem que combina o modernismo com o clássico, e foi a partir de sua Quarta sinfonia (1911) quando decidiu afastar-se de certa maneira das estruturas musicais dependentes da música tradicional. Fruto destes avanços é sua Quinta sinfonia em mi bemol maior, de caráter triunfalista e majestoso. A obra foi revisada em várias ocasiões; sua versão definitiva data de 1919.
Sua penúltima sinfonia, a Sexta (1923), possui rasgos claramente finlandeses e um temperamento pastoral e meditativo. Está composta em quatro movimentos e nela encontramos escalas modais como a Dórica. Mas sua obra mais audaciosa é sem dúvida a Sétima sinfonia (1924); escrita em um só movimento, nela Sibelius consegue uma grande expressividade através do desenvolvimento sinfônico sem interrupções.
Seu Concerto para violino em ré menor é uma das obras que mais popularidade lhe deu, e que continuou interpretando-se amiúde ainda quando sua figura havia caído em certo olvido devido ao interesse que despertava na Europa a música de vanguarda. Nele tratou de fundir o virtuosismo próprio de uma obra para instrumento solista com a profundidade carente de ostentação pela qual se caracterizava sua música. O concerto foi revisado em diversas ocasiões com a minuciosidade própria de Sibelius, até que em outubro de 1905 estreou em Berlim sob a batuta de Richard Strauss.
Além de seu interesse pela música sinfônica, também dedicou parte de seu tempo à criação de obras vocais. Escreveu canções para soprano com textos em sueco, com frequência interpretadas pela cantora finlandesa Ida Ekman. Alguns exemplos deste tipo de obras são suas Sete canções de Runeberg op. 13, publicadas em 1892 e baseadas em textos do poeta finês Johan Ludvig Runeberg, ou suas canções dos op. 36, 37 e 38. A linguagem musical de Sibelius influiu na obra de alguns compositores britânicos do século XX como Ralph Vaughan Williams, além de servir de inspiração para o movimento minimalista, integrado por compositores como Philip Glass ou Steve Reich."
Original em: https://www.biografiasyvidas.com














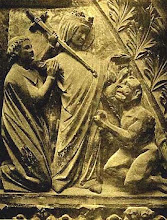









.jpg)