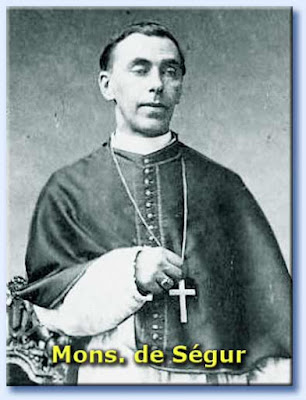“O Tirol, essa pitoresca província austríaca no centro da cadeia dos Alpes, no início do século XIX limitava-se a oeste com a Suíça e o Vorarlberg austríaco; ao norte, com a Baviera; e ao sul, com a Itália. Região montanhosa — dezenas de seus picos se elevam a mais de três mil metros de altitude — suas comunicações se faziam pelos vales, principalmente os dos rios Inn e Adige. Constituía uma província do Sacro Império Romano Alemão.
Por sua altitude, a neve cobria o Tirol durante seis meses. Sendo suas vilas distantes umas das outras, era normal que os entroncamentos das estradas fossem salpicados de albergues, não só onde os viajantes pudessem passar a noite, mas que servissem também de ponto de encontro para o povinho em busca de notícias.
Foi num desses albergues, o de Sandhof, que nasceu Andreas Nikolaus Hofer à meia-noite do dia 22 de novembro de 1767. Seu pai, Josef Hofer, atingira já os quarenta e três anos, e sua mãe, Maria Hofer, tinha pouco menos e já havia dado à luz três meninas. Ela morreria apenas três anos depois. Josef contrairá segundas núpcias, mas morrerá em 1774, deixando Andreas, com apenas sete anos de idade, duplamente órfão.
O menino foi criado pela irmã mais velha e o cunhado, que tomaram a direção do albergue que desde o século XVII pertencia à família. Formado no cadinho das tribulações, Andreas habituou-se a resolver por si só seus problemas, o que lhe deu uma precoce maturidade.
Nessa região extremamente religiosa, Andreas aprendeu em casa e na igreja os fundamentos da Religião católica; uma fé viva e profunda piedade marcarão seu futuro. Na escola comunal, instituída pela imperatriz Maria Teresa anos antes, ele aprendeu a ler, escrever e contar.
O “General Barbone”, presença marcante no Tirol
Apenas entrado na adolescência, Andreas deixou o lar para ir ao extremo sul do Tirol trabalhar com alberguistas e comerciantes de vinho. Nessa área italiana da província, aprendeu com facilidade a língua local, falando-a fluentemente.
Aos 20 anos de idade, voltou para Sandhof e tomou a direção do albergue familiar; a irmã e cunhado instalaram-se em outra província.
O jovem e esforçado alberguista, para liquidar as dívidas pendentes do estabelecimento, resolveu acrescentar a ele o comércio de vinho, licores e cavalos.
No ano seguinte, em 21 de julho de 1789, com 21 anos de idade, Andreas contraiu matrimônio com Anna Ladurner. Nascerão dessa união seis meninas (das quais duas morrerão cedo) e um menino.
Andreas era então, por sua maturidade e determinação, um homem feito. Seu porte era mediano, largo de espáduas, de uma força física admirável. Tinha o rosto arredondado, pequenos olhos castanhos e cabelos pretos. Mas o que destacava mais sua presença era uma abundante e prestigiosa barba negra, que mais tarde fará com que o chamem de “General Barbone”. Andreas era jovial, afável, sempre contente, e se comprazia em conversar. Em breve ele se tornou uma das figuras mais populares no sul do Tirol.
Reação católica contra despotismo revolucionário de José II
O Imperador José II, imbuído das idéias revolucionárias da época, sancionou várias leis de caráter igualitário e totalitário, as quais visavam nivelar as autoridades locais segundo um modelo administrativo uniforme, com funcionários diretamente ligados a Viena. Isso era muito mal-visto pelo conservador Tirol. Mas foram sobretudo suas medidas em relação à Igreja católica que mais violentamente repercutiram na região. O monarca dissolveu conventos das ordens contemplativas, instituiu um seminário único em Innsbruck, capital do Tirol, dotado de professores adeptos das idéias novas, e chegou a suspender as peregrinações e as procissões seculares, até decretar quantas velas se podiam acender nas igrejas, quais preces públicas estavam autorizadas e quantas badaladas podiam dar os sinos paroquiais durante o dia.
Os tiroleses eram profundamente católicos. Em toda parte erigiam oratórios e calvários. Passando diante deles, o viandante persignava-se. Se estava com tempo, ajoelhava-se e rezava o terço. Encontrando um conhecido, saudava-o com o tradicional “Grüs Gott” (Deus vos abençoe). Aos domingos toda a aldeia assistia devotamente, de joelhos, ao santo Sacrifício da Missa. E à tarde, participava das Vésperas ou de alguma procissão.
Isso explica a reação generalizada da província contra as reformas do Imperador José II: “O Tirol entrou em resistência aberta. As práticas piedosas proibidas foram mantidas, a despeito da lei. Os editos imperiais afixados nos povoados foram arrancados. No púlpito os padres tronavam contra o Imperador, invocando a cólera do Céu sobre ele”.
Não é pois de se admirar que também, quando as tropas revolucionárias francesas invadiram a Áustria, os tiroleses considerassem Napoleão como o Anticristo, por ter prendido o Papa.
Tirol, profundamente vinculado à Casa d´Áustria
Em agosto de 1805, na guerra da coalizão contra a França, o Arquiduque João, de 23 anos, foi nomeado comandante-em-chefe das forças imperiais na região dos Alpes. A estima entre o príncipe e o povo tirolês foi recíproca, e deveria durar até mesmo na derrota.
No início de novembro desse mesmo ano, massacrando uma guarnição tirolesa em Scharnitz, o general napoleônico Ney penetrou em Innsbruck. No fim desse mês, os franceses foram substituídos pelos bávaros. E no dia 26 de dezembro desse ano a Áustria assinava a paz. No acordo estabelecido nessa ocasião, o Tirol ficaria pertencendo à Baviera, se bem que “com os mesmos títulos, direitos e prerrogativas que ele possuía sob Sua Majestade, o Imperador da Áustria ou os príncipes de sua Casa, e não de outro modo”.
Apesar de serem vizinhos, de terem uma língua comum e a mesma Religião, tiroleses e bávaros não se estimavam. Imbuído dos princípios da Revolução Francesa e pertencendo à franco-maçonaria, o rei bávaro, Maximiliano José, aderira plenamente às idéias liberais.
Mesmo tendo prometido salvaguardar integralmente o direito de propriedade e das pessoas, o monarca bávaro não era bem visto pelos tiroleses, que o julgavam um anticlerical, e sobretudo porque um vínculo muito profundo os ligava à Casa d’Áustria.
Todos acorrem para lutar por Deus, pelo Imperador, pelo Tirol
De 1806 a 1808 o governo bávaro, imbuído das idéias do livre-pensamento do século XVIII, procurou aplicar no Tirol uma política religiosa que feria os sentimentos, os costumes e as aspirações da população. Foram proibidas a Missa do Galo, as cerimônias religiosas noturnas, a bênção do Santíssimo depois da Missa cantada; foram interditadas as rogações, as novenas, a Via Sacra, as procissões, as peregrinações, etc. De acordo com o pensamento unânime dos historiadores, essa foi a causa principal da insurreição de 1809.
Em uma reunião clandestina, no fim do ano de 1807, os tiroleses comprometeram-se a fazer tudo para salvar o catolicismo no Tirol. Entre os presentes estava Andreas Hofer.
O recrutamento de soldados para engrossar o exército bávaro também foi outra medida mal-recebida, tanto mais que tal medida visava o combate à antiga pátria, a Áustria. Os conscritos fugiam para as montanhas e não se apresentavam.
Começou então a insurreição. De todas as vilas alpinas acorreram voluntários para lutar por Deus, pelo Imperador e pelo Tirol. Os tiroleses infligiram duas tremendas derrotas às tropas franco-bávaras, inclusive uma delas contra o famoso marechal de Napoleão, Lefèbvre. Andreas Hofer se fez notar como líder nato. Seu prestígio era imenso. Compreendendo suas limitações, nas batalhas deixou o comando tático para companheiros que julgava mais competentes. Seu papel era o de, com sua presença, dar segurança e confiança aos combatentes.
Andreas Hofer é escolhido como regente do Tirol
Depois dessas grandes vitórias, ele assina por vez primeira: “Andreas Hofer, comandante nomeado pela Casa d’Áustria”. Ele pede preces públicas de ação de graças. E, fiel ao voto que havia feito antes da batalha, promulgou um edito estipulando que a festa do Sagrado Coração de Jesus deveria ser erigida perpetuamente, em uma solenidade inscrita em vermelho no calendário tirolês.
Tendo as autoridades bávaras fugido, e não havendo outras nomeadas pelo Imperador da Áustria, os tiroleses escolheram Andreas Hofer como regente do Tirol. Durante dois meses ele governou o Tirol de uma maneira singular. Formou seu conselho escolhendo os membros entre seus amigos. Todos levantavam-se às cinco horas da manhã e começavam o dia assistindo à Missa no palácio do governo. À noite, depois do jantar, recitavam de joelhos um Rosário completo.
Entretanto, no dia 14 de outubro de 1809 a Áustria assinou outro tratado de paz com a França, que não alterou a situação do Tirol. Em outros termos, ele continuaria pertencendo à Baviera! Ao mesmo tempo, Napoleão confiou a Eugênio de Beauharnais a missão de submeter o Tirol. O general francês, auxiliado pelas tropas bávaras, infligiu derrotas sucessivas aos tiroleses. O filho adotivo de Napoleão conclamou os vencidos a entregar as armas e a reconhecer as autoridades bávaras como legítimas governantes do Tirol. Os tiroleses receberam ao mesmo tempo mensagem do Arquiduque João, comunicando o seguinte: “Eu devo fazer-vos saber que o desejo de Sua Majestade é que os tiroleses permaneçam tranqüilos, e não se sacrifiquem inutilmente”.
Mancha temporária e piedosa morte
A constatação desse abandono por parte do Imperador austríaco provocou em Andreas Hofer profunda depressão. E ele que era tão religioso, estranhamente, em vez de buscar conforto na Religião, procurou-o infelizmente na bebida, tornando-se um líder indeciso, à mercê de todas influências. Isso o levou a uma imprudente batalha contra os bávaros, na qual os tiroleses foram arrasados.
Andreas Hofer escondeu-se então nas montanhas. Uma soma de 1.500 florins foi oferecida a quem denunciasse seu esconderijo. Na longa solidão, Hofer se recompôs, rezou, meditou e ofereceu seus sofrimentos pela salvação de sua alma e pelas dos que morreram pelo Tirol.
Como sucede com freqüência na história humana, apareceu um Judas, pronto para entregá-lo. Franz Raffl visitara Hofer em seu esconderijo. Tinha participado também da insurreição. Mas a recompensa oferecida pela delação tentou-o e ele traiu. No dia 27 de janeiro, Andreas foi preso juntamente com a esposa e filho, que o haviam ido visitar, e um amigo, Sweth, que com ele se encontrava.
Condenado à morte, confessou-se e recebeu a sagrada Comunhão na manhã de sua execução. E escreveu uma carta a seu amigo Vinzenz von Pühler, repleta de piedosos sentimentos e da crença no Purgatório e na vida eterna.
Andreas Hofer permanece na memória popular
Em janeiro de 1823, cinco soldados de um regimento de caçadores que estava em Mântua levaram de volta para o Tirol os restos mortais de Andreas Hofer. O Imperador Francisco I determinou que fosse sepultado em Innsbruck, na igreja da corte. Ordenou também que um monumento lhe fosse dedicado, encimado com uma estátua do valoroso chefe contra-revolucionário.
Francisco I, enfim, fez algo pelo vassalo tão fiel desaparecido. Concedeu uma pensão à esposa e filhas de Andreas Hofer, e renovou o certificado de nobilitação de seu filho, assegurando sua educação.
Os tiroleses não se esqueceram do grande líder. Em cada lar havia uma estampa sua. E a tradição oral manteve viva sua memória. Sua figura encontra-se por toda parte: em soldadinhos de chumbo, em xícaras de café ou cinzeiros.
Uma estátua gigante do chefe tirolês foi inaugurada em Bergisel pelo Imperador austríaco Francisco José. Em Sandhof foi erigida uma capela ornada com afrescos interiores que narram sua vida.
Em 1919, pelo tratado de Saint Germain, as regiões do Trentino e do Alto-Adige passaram a pertencer à Itália. Entre outras medidas tomadas por Mussolini em 1923, figurava a proibição de se ter retratos de Andreas Hofer nessa antiga província do Tirol.
Hofer, devido à sua posição contra-revolucionária, tornou-se um símbolo do patriotismo austríaco contra os inimigos do norte e a anexação da Áustria à Alemanha, em 1938.
Em 1945 o governo de Innsbruck renovou o voto ao Sagrado Coração de Jesus, feito por Hofer, e a constituição provincial adotada em 1960 começa com a “fidelidade a Deus” em primeiro lugar, como Andreas Hofer teria feito.”
(José Maria dos Santos,
Andreas Hofer, Líder Contra-Revolucionário do Tirol)
www. catolicismo.com.br