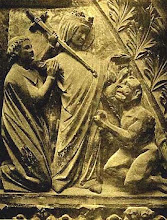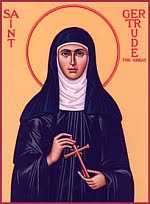“Afastando estes tópicos, perguntemos porque é que o homem possui direitos inalienáveis enquanto homem, unicamente por ser homem?
A resposta assemelha-se simples. Exactamente porque o homem é um sujeito com consciência de si e, sobretudo, com uma natureza racional.
Simplesmente, uma dificuldade surge aqui. Se por natureza se entende essência, como o faz S. Tomás de Aquino [cf. Suma Teológica], torna-se patente que a essência do homem não é a racionalidade. Porventura será o homem só razão? Se assim fosse, o homem não poderia enganar-se, nem praticar o mal. Tudo quanto o homem fizesse seria verdadeiro e, então, seria verdade que o homem não tem dignidade nenhuma e meritório tratá-lo como um desvalor sem direitos.
Mas, observar-se-á, o homem não será só razão, por certo. No entanto, para além de Deus e dos anjos, é o único ente dotado de razão. E isso não bastará para lhe dar dignidade e direitos intrínsecos? Obviamente não, porque a razão é apenas um atributo do homem entre outros, existindo, ao lado dela, a capacidade de errar, de se abandonar ao que é vil e extremamente mesquinho, de agir irracionalmente, em suma. Onde estarão, nessa altura, a sua dignidade e direitos intrínsecos?
Sublinhar-se-á, a seguir, que é ele o único ente (além dos anjos e Deus) que pode praticar o Bem, coisa que não está na alçada dos gatinhos ou das pedras. Mas em contrapartida, também pode praticar infâmias, o que não acontece com os gatinhos ou as pedras.
Sem dúvida o homem, ontologicamente, é diferente dos animais e dos minerais; todavia, tal situação não equivale a ter dignidade e direitos enquanto homem, porque dignidade e direitos são categorias éticas, que não se confundem
tout court com as categorias ontológicas.
Anotar-se-á que os homens, e apenas os homens, podem conseguir a Salvação e atingir a beatitude? Bem! Já que estamos, agora, numa perspectiva teológica, replicar-se-á que os homens também podem ir para o Inferno, que é o contrário da beatitude.
De resto, se há homens perfeita e cabalmente indignos, como nos dizem e repetem, em especial a propósito da guerra de 1939-1945, de que forma sustentar que o homem tem uma dignidade e direitos intrínsecos só por ser homem?
E examinemos outro problema. Qual o limite dos direitos inalienáveis de cada homem, uma vez que, tratando-se de elementos de uma multiplicidade, – cada homem – não se concebe como ilimitado?
Se utilizarmos um critério objectivo, superior ao próprio homem, para fixação daquele limite, estamos perante uma ambiguidade patente. Os direitos do homem serão delimitados por algo de extrínseco ao homem que, porventura, praticamente os reduzirá a nada.
Os direitos do homem, portanto, só poderão ser fixados pelos próprios homens. Mas isso não levantará conflitos entre estes? Talvez se responda que não, porque os homens, sendo finitos por definição, têm limites que não ultrapassam.
Simplesmente, até onde vão esses limites? A sua simples existência não impede eventuais conflitos. Um ente finito pode, indiscutivelmente, visar a eliminação de outro ente finito sem perder a sua finitude.
É preciso encontrar um critério de delimitação recíproca dos direitos do homem que não seja função de nada de exterior ao próprio homem. O problema parece difícil de resolver, mas em realidade não o é.
Basta considerar que cada um estabelecerá os direitos que lhe aprouver, desde que não viole os iguais direitos dos outros.
A fórmula, aliás, é antiga. Encontra-se no artigo IV da
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de 1789. "L'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits".
À primeira vista, isto parece o mais claro possível. Os direitos do homem põem-se a si mesmos, juntamente com os seus próprios limites. Cada homem tem todos os direitos concebíveis, só não deve ir além do ponto em que se situam os direitos dos restantes.
Estamos perante uma concepção que representa a mais sólida razoabilidade e que, sem recorrer a nada de extrínseco, consegue pôr as barreiras necessárias aos direitos de cada um.
Contudo de Cila passamos a Caríbdis.
Com efeito, se o direito de A só é limitado pelo direito de B e o direito de B só é limitado pelo direito de A, para conhecermos até onde vai o direito de A – isto é, para conhecermos o direito de A – temos de conhecer, previamente, até onde vai o direito de B – isto é, temos de conhecer o direito de B. Mas, em contrapartida, para conhecermos o direito de B, temos de conhecer já o direito de A, que vimos depender do conhecimento do direito de B e assim sucessivamente.
Estamos num círculo vicioso ou dialelo nítido.
A fim de se saber até onde pode ir a vontade de A, é preciso saber até onde pode ir a vontade de B, e para saber até onde pode ir a vontade de B, é preciso saber até onde pode ir a vontade de A.
Anotar-se-á que isso é plenamente descabido. Basta esclarecer, inicialmente, o direito de A e de B, cada um de
per si.
Todavia, estabelecer o direito de A é defini-lo, e definir, consoante a palavra indica, é marcar os fins, os contornos, logo, os limites. Não é possível uma definição anterior à delimitação, acontecendo que, neste caso, a única regra que se apresenta para a delimitação é uma devolução recíproca.
Não tem, pois, consistência a observação que nos fizeram e o círculo vicioso mantém-se.”
(António José de Brito,
Alguns Paradoxos das Doutrinas sobre os Direitos dos Homens)
http://accao-integral.blogspot.com.br