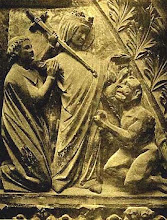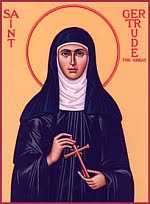“Todo autor que aspire a biografar W. G. Sebald deve enfrentar a ficcionalização que o Sebald autor levou a cabo com a vida do Sebald narrador/personagem que aparece em suas obras literárias. Datas de nascimento, de falecimento, seu emprego, a publicação de seus livros e outros acontecimentos certamente são transcendentais na vida empírica de W. G. Sebald, mas não em sua biografia interior e subjetiva, que sem dúvida é mais interessante para seus leitores. No entanto, como se pode distinguir entre fato biográfico e invenção? O próprio Sebald tornou deliberadamente esta distinção uma tarefa difícil, senão impossível: aparentemente seus narradores refletem sua vida real de professor/escritor nascido na Alemanha e residente na Inglaterra, mas seus livros não fazem nenhuma referência a, por exemplo, sua vida familiar com sua esposa e uma filha. O Sebald narrador sempre está sozinho, é o outsider e caminhante por antonomásia; o Sebald autor, não tanto. A seguir apresento uma lista de cinco dos acontecimentos mais importantes na vida de W. G. Sebald, começando por um que tem lugar inclusive antes de seu nascimento. Os primeiros três acontecimentos pertencem diretamente ao âmbito da biografia interior parcialmente inventada do narrador sebaldiano. Os dois últimos – de momentos muito posteriores de sua vida – têm uma validade histórica relacionada com sua própria posição geracional na Alemanha do pós-guerra.
1) A guerra aérea contra a Alemanha
Na noite de 28 de agosto de 1943, 528 aviões aliados bombardeiam a cidade de Nuremberg. Rose Sebald, nascida Egelhofer, se encontra de volta a casa depois de visitar seu marido – à época oficial da Wehrmacht – em Bamberg. Só pode chegar a Fürth, de onde vê Nuremberg em chamas; pouco depois se dá conta de que está grávida. Nascido oito meses depois, em 18 de maio de 1944, Sebald se criou na aldeia de sua mãe, ao pé dos Alpes, no sudoeste da Baviera, perto das fronteiras austríaca e suíça. Aquele lugar bucólico não foi nunca bombardeado, de maneira que Sebald cresceu sem nenhuma noção de destruição. Mas para o narrador de Do natural, no momento em que Rose Sebald se vira para olhar a destruição das instalações onde se celebravam os congressos do partido nazista, cria-se um vínculo pessoal direto do narrador com esta destruição quase bíblica, "como se eu já tivesse visto tudo antes", escreve. Os bombardeios da Alemanha perturbarão sua vida adulta e praticamente toda sua ficção. Ironicamente, Sebald viveu quase trinta anos na costa nordeste da Inglaterra, a pouca distância do lugar de onde os aviões ingleses iniciavam seus ataques aéreos contra a Alemanha.
2) Pais alheios
Em fins de janeiro ou princípios de fevereiro de 1947, Sebald não tem nem três anos quando a família viaja a Memmingen para receber a Georg Sebald, liberado recentemente de um campo de prisioneiros de guerra na França. É um momento arquetípico na vida das famílias alemãs que terá lugar desde o fim da guerra até 1956, quando finalmente são postos em liberdade os últimos prisioneiros alemães de seu confinamento soviético. O pai que regressa, objeto de muitas recordações familiares e de uma grande idealização durante sua ausência, apresenta na realidade uma série de contradições inquietantes a seus filhos: depauperado moral e fisicamente (pesa menos de cinqüenta quilos), mas autoritário e exigente; o usurpador severo em um universo familiar até então encabeçado benevolamente por sua mãe, sua irmã maior Gertrud e seus complacentes avôs maternos, Josef e Theresa Egelhofer. O filho menor, Winfried, nunca perdoará a seu pai. A relação fraturada com Georg Sebald, nome que seu filho compartilha mas que desterrará relegando-o a uma inicial ("W. G." = Winfried Georg), induzirá as decisões mais importantes de sua vida e será um catalisador oculto para sua produção literária.
3) O filósofo natural
O pai "autêntico" ou eleito de Sebald foi seu avô Josef Egelhofer, que serviu de polícia rural na aldeia de Wertach desde princípios do século XX até que se aposentou, nos anos trinta. Homem reconhecidamente sensível, afável e gracioso, não recebeu muita educação formal, mas era inteligente e curioso, sobretudo em relação ao mundo físico que o rodeava. Gertrud Sebald disse que é um Naturphilosoph ou filósofo natural. O Egelhofer aposentado, cuja profissão o havia levado a patrulhar os arredores a pé, levava seu neto a fazer longas caminhadas e lhe dava a conhecer as flores e as ervas, a meteorologia e a geologia das montanhas, mas também os habitantes da aldeia, já que conhecia muito bem suas histórias vitais. É o primeiro e mais querido mentor de Sebald, um papel que se viu reforçado pela ausência de seu genro, Georg, que trabalhava em uma população vizinha e até 1952 voltava a casa só nos fins de semana. Egelhofer morreu em abril de 1956, à noite, durante uma grande tempestade de neve, alguns meses antes de seu neto finalizar a educação primária. Sua morte deixará talvez a marca mais importante dentre todos os acontecimentos da paisagem interior de Sebald. Seu primeiro romance, escrito durante seus estudos universitários mas nunca publicado, gira em torno da longa descrição do funeral e do enterro de seu avô. Mas a presença de Engelhofer também se pode notar nas obras publicadas: no vínculo reverencial entre os narradores jovens de Die Ausgewanderten (em português publicado com o título de Os Emigrantes) e Austerlitz (publicado em português com o mesmo título) e em figuras masculinas de mentores mais velhos e mais sábios como Henry Selwyn, Max Faber ou Jacques Austerlitz, vítimas e sobreviventes melancólicos de uma catástrofe pessoal muito anterior.
4) Uma vida no exterior
A mudança de residência de Friburgo de Brisgóvia (na Alemanha) a Friburgo (na Suíça) em outubro de 1965 marca sua ruptura transcendental, embora involuntária, com a Alemanha e o início de sua emigração, primeiro à Suíça e depois à Inglaterra, onde viverá até sua morte, em 2001. Dita mudança não obedeceu a um plano deliberado para emigrar: o traslado à Friburgo suíça foi motivado por seu desejo de fugir ao entorno rígido e moralmente comprometido do professorado da faculdade de Filologia Alemã da Universidade de Friburgo, onde havia estudado inicialmente. Também lhe deu a oportunidade de estudar sem ter que pagar um aluguel, sem o apoio econômico de seu pai, já que vivia em um andar com sua querida irmã Gertrud e o marido suíço desta, Jean-Paul Aebischer. Durante sua estada em Friburgo, Sebald completa sua licenciatura com menção de nove meses de francês (uma língua que mal tinha estudado antes), trabalhando com um professor vienense que se havia oposto aos nazistas e havia emigrado à Suíça antes da guerra. Aqui começa a conexão de Sebald com as vítimas e os exilados dos nazistas, conexão que continua em relações importantes que estabelece na Inglaterra, onde havia encontrado refúgio grande quantidade de judeus alemães perseguidos. A estada em Friburgo lhe ensinará o que a vida pode oferecer em um país e uma língua estrangeiros quanto à libertação e ao alívio interiores da carga dos crimes de guerra da Alemanha de sua geração. Viver entre não-alemães fez-lhe ganhar consciência daquela carga e ao mesmo tempo tornou-a mais leve. A emigração formava parte do DNA familiar. Nos anos vinte, os três tios e tias maternos de Sebald emigraram da Alemanha aos Estados Unidos e lá permaneceram até sua morte; as duas irmãs de Sebald, Gertrud e Beate, foram morar na Suíça no começo de suas vidas, onde ainda vivem. Mas a emigração também formava parte de sua herança geracional como filho nascido durante o logo depois da guerra, a geração que chegará à maioridade durante os anos sessenta e, muito amiúde, buscará fortuna no exterior.
5) Onde tudo começou
No inverno de 1983, enquanto vivia em Norfolk, na Inglaterra, Sebald recebeu notícias da parte de sua mãe sobre o suicídio de um mestre muito querido da escola primária chamado Armin Müller. Rose lhe mandou recortes de jornal que informavam de sua horripilante morte – o mestre aposentado havia caído sobre os trilhos de trem na periferia de Sonthofen – e graças àqueles recortes Sebald descobriu que Müller, surpreendentemente, havia sido vítima dos nazistas nos anos trinta. Como neto de avôs judeus ou uma quarta parte judeu, no período inicial do regime nazista proibiram-no de ensinar alemão às crianças, muito embora em 1939, paradoxalmente, a Wehrmacht o convocaria aludindo a suas três quartas partes de alemão e serviria à pátria durante seis anos. O descobrimento de Sebald de um exemplo a mais da conspiração do silêncio perpetrada por pais e professores sobre a verdadeira implicação de sua aldeia natal na perseguição nacional-socialista engendra nele emoções contraditórias: raiva porque desde pequeno as figuras de autoridade lhe mentiram, mas também dolo culpável por um mestre querido, já que de repente se dá conta de que nunca havia entendido de todo a autêntica identidade daquele mestre nem a perseguição que havia sofrido no passado. As emoções mescladas são um potente catalisador para sua obra literária e o levam a escrever a história de Paul Bereyter, em Os Emigrantes. Esta história, uma das mais comoventes de Sebald, estabelece o modelo de sua ficção, semidocumental e eticamente comprometida, que se tornará sua assinatura literária."
(Mark M. Anderson, Cinco Momentos Cruciais na Vida de W. G. Sebald)
http://kosmopolis.cccb.org
Los cien primeros días de León XIV
Há 23 horas